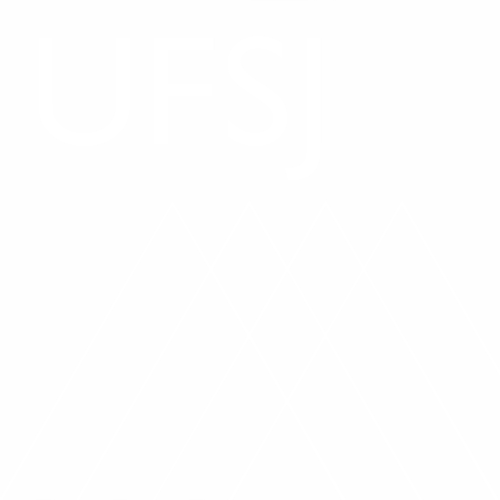"O Brasil é referência regional de políticas afirmativas"
Publicada em 12/11/2018
Entrevista com a professora colombiana Anny Ocoró Loango
O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano. Apesar da maioria numérica, essas pessoas são afetadas pelas desigualdades racial e social, que interferem no acesso a direitos fundamentais como saúde, emprego e educação. É esta a opinião da professora Anny Ocoró Loango, pesquisadora colombiana que se dedica ao estudo de políticas de ação afirmativa aplicadas em toda a América Latina.
As políticas afirmativas estão em vigor em todo o território brasileiro desde agosto de 2012, quando foi sancionada a Lei 12.711/2012, conhecida popularmente como Lei de Cotas. Estabelecer uma legislação válida no âmbito nacional foi o mérito da lei brasileira, o que a diferencia do que é aplicado nos demais países sulamericanos. A iniciativa brasileira refletiu no Uruguai, que aprovou a Lei 19.122/2013, estabelecendo cotas raciais tanto nas universidades quanto nos cargos administrativos do Estado.
Anny Ocoró Loango é cientista social graduada pela colombiana Universidad del Valle, com mestrado e doutorado na mesma área, na Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, na Argentina. Atualmente, é docente na Universidad del Salvador, e faz parte da equipe de pesquisa do Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, da Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Entre os dias 12 e 17 de outubro, a pesquisadora esteve presente na 10ª edição do Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros (X Copene), realizado na Universidade Federal de Uberlândia. Durante o evento, Anny concedeu esta entrevista exclusiva a João Vitor Bessa, aluno do curso de Jornalismo da UFSJ que faz estágio na Assessoria de Comunicação da Universidade, na qual falou das políticas afirmativas aplicadas na América do Sul, do racismo presente na Academia e da importância da aproximação entre intelectuais do Brasil e dos demais países vizinhos.
Quais são as políticas afirmativas aplicadas no Ensino Superior colombiano? Que resultados já são observáveis?
Primeiro, é preciso dizer que as políticas de ações afirmativas na América Latina são recentes, das últimas duas décadas deste século, e que a maior referência local é o Brasil, graças ao alcance que tomaram, graças às leis que propiciaram a numerosa inclusão de estudantes. Há um grupo de países que propõe medidas similares, incluindo a Colômbia. A diferença entre a Colômbia e o Brasil é que lá as ações afirmativas não são uma política nacional. Há um conjunto de universidades que atenderam às reivindicações do movimento negro e implementaram cotas étnico-raciais para povos indígenas e negros. Como não existe uma legislação nacional, as cotas dependem da vontade política dessas instituições, e são frutos surgidos da mobilização de estudantes negros, ou seja, da pressão política. Na Colômbia, a cobertura das ações afirmativas é muito menor do que no Brasil. Por exemplo: é comum que as universidades reservem apenas 2% das vagas para cotistas, com algumas exceções, como a Universidad del Tolima, que reserva 5%. O movimento negro tentou aumentar a porcentagem para 10%, já que, de acordo com o censo de 2005, é esta a parcela da população negra colombiana, mas a negociação não foi bem-sucedida. A julgar pela minha experiência pessoal, sou da primeira geração de minha família (materna e paterna) que chegou à Universidade, o que é pouco comum, porque o acesso das populações negras latino-americanas ao Ensino Superior é limitado.
E nos demais países do continente, quais são as medidas?
No Uruguai, a legislação (Lei 19.122/2013) é interessante, porque contempla não apenas o acesso ao Ensino Superior, mas também a cargos administrativos do Estado. O Uruguai tem apenas 7% de população afro - bem menos que a Colômbia -, e aprovou uma lei de maior alcance, o que tem a ver com vontade política e mobilização. Apesar disso, são realidades distintas. No Uruguai não há conflito armado, como na Colômbia, além de outras diferenças históricas. A Venezuela não possui ações afirmativas, mas recentemente passou a incluir a população afro em seu censo populacional. A Argentina não tem ações afirmativas e está longe de consegui-las. A lei equatoriana também é recente. Essas diferenças têm a ver com a porcentagem da população afro nesses países. O Brasil supera amplamente a todos (54%), seguido pela Colômbia (oficialmente com 10%, apesar de estudos alternativos apontarem 26%), Uruguai e Costa Rica (7%), Argentina e Bolívia (5%). O número populacional é um fator importante para a negociação com o Estado. Esses grupos minoritários sofreram com a invisibilização ao longo da História. Esses países apresentam políticas de reconhecimento da população negra, mas poucos avançam em direitos materiais, no que implicam ações afirmativas.
A senhora é uma pesquisadora negra colombiana que viveu no Brasil e também na Argentina. O que essa vivência lhe ensinou sobre racismo e xenofobia no Brasil?
Creio que o racismo na América Latina não é uma categoria fixa de definição. Quando se pensa a respeito do racismo nos EUA ou na África do Sul, se pensa a respeito da pressão violenta contra um grupo minoritário, se pensa a respeito da supressão de direitos, se pensa a respeito da violência direta. Na América Latina, de algum modo, os ideais de mestiçagem e democracia racial esconderam o racismo. No entanto, a América Latina está estruturada em uma “ordem racial”. Se você for à Colômbia, vai descobrir o que é o racismo institucional, já que as populações negras estão em um nível de estrutura muito inferior à de outros grupos étnicos no que diz respeito ao acesso a direitos sociais, aspectos econômicos e culturais e também à situação de emprego. Dificilmente você verá a população negra colombiana ocupando postos de trabalho formal - e todos sabemos que a informalidade significa a limitação de direitos. O que conheço do racismo no Brasil, a princípio, vem dos estudos clássicos dos anos 1950, que começaram a questionar o mito da democracia racial para apontar precisamente a desigualdade de classes na estrutura de oportunidades, que são marcas do racismo. O movimento negro colocou esses pontos em evidência, assim como a questão dos estereótipos em relação à população negra. Creio que o Brasil teve um papel importante no continente, ao mostrar que o racismo se manifesta em situações cotidianas, mesmo sendo imperceptível para algumas pessoas. É naturalizando o tratamento diferenciado, a dificuldade de oportunidades e o discurso meritocrático que se nega o racismo e não se reconhecem as desigualdades de origens étnico-raciais que permeiam a sociedade. Por exemplo: não se explica as villas argentinas e as favelas sem entender o racismo, porque não é apenas a questão de classe, mas um efeito de processos históricos e sociais.
E em relação ao racismo na Academia?
É um tema ao qual estou me dedicando atualmente. Construí minha vida acadêmica na Argentina, para onde me mudei para fazer a minha pós-graduação. A Argentina é um país que historicamente se define pela branquidade, onde estudos sobre a população negra foram feitos por intelectuais brancos. Para eles, tem sido difícil aceitar que nós, negros, também somos capazes de produzir conhecimento. É aí que está o racismo: na ideia de que o negro deva ser tutelado, observado, que alguém deva interpretá-lo e falar por ele. Em um espaço dominado por homens brancos, as poucas oportunidades para uma mulher acadêmica negra são perceptíveis. Cito o mestrado em interculturalidades. De que interculturalidade se fala, se nem ao menos se utiliza autores indígenas e nem negros, apenas autores brancos? A interculturalidade não se define no papel, mas na ação política e social. Se a pessoa não assume que está ocupando um espaço de privilégio, e entende que dentro desse privilégio está o racial, não há interculturalidade. Foi o que senti; não encontrei ali o meu lugar. O campo intelectual não é neutro, tem suas disputas, e uma delas é racial. Um desses campos em disputa não quer ceder! Há uma disputa pela interpretação do mundo e de quem produz o conhecimento. Na Argentina, me senti sozinha, porque há poucos pesquisadores negros, tanto que os contamos com os dedos de uma vez.
Como foi a sua aproximação com a intelectualidade negra? Por que é importante o intercâmbio entre pesquisadores e pesquisadoras latinos?
Minha aproximação começou por meio da leitura, já que o Brasil é uma referência na produção de conhecimento sobre as questões étnico-raciais. Na Universidade, tive que ler bastante esses autores, que foram importantes para a minha formação. A partir dessas leituras, me aproximei de pesquisadores afrobrasileiros e de círculos acadêmicos de produção de conhecimento, como congressos de pesquisadores negros. Em congressos internacionais, conheci pesquisadores brasileiros que me apresentaram ao Copene, necessário espaço enriquecedor e de união entre os negros. Essa é uma aproximação fundamental, e não existe em outro lugar. Apenas em março deste ano fundou-se a Associação de Pesquisadores Negros da Colômbia, da qual faço parte. Mas nenhum outro país do continente vive uma experiência tão valiosa como a brasileira, que abrange intelectuais negros pensando, produzindo e trazendo à tona os problemas de suas comunidades. Creio que a partir da aplicação das leis de políticas afirmativas no Brasil, os pesquisadores negros ampliaram seu campo de atuação. Antes, estavam lá os mesmo brancos de sempre, que organizavam os livros e controlavam os espaços de debate. A presença de pessoas negras contribuiu para a pluralidade na Academia, trazendo novas temáticas, entre elas o racismo acadêmico, tema que um pesquisador branco não vai abordar. Para além disso, houve maior diálogo com a África, a valorização da epistemologia negra e do feminismo negro.